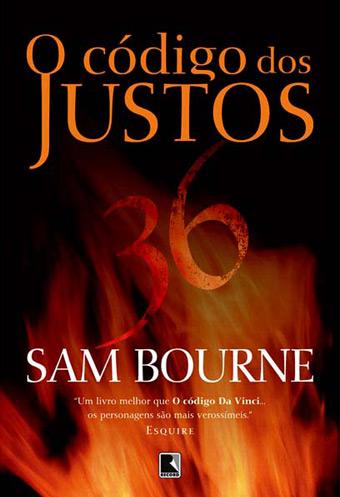O Universo Cinematográfico
Marvel (UCM) continua em expansão ano após ano com lançamentos pontuais de seus
heróis. Já estão confirmados novos heróis com os filmes de Homem Formiga
(2015), Doutor Estranho (2016), Pantera Negro (2017) e Capitã Marvel (2018).
Outros filmes ganharão sequências como Capitão América (2016), Thor e Guardiões
da Galáxia (2017) e Os Vingadores (2018). Além da possibilidade do filme solo
do Homem Aranha, agora que os direitos sobre o Cabeça de Teia estão de volta à Marvel. Porém um herói continua
sem força nos bastidores para conseguir enfim seu (novo) filme solo: O Incrível
Hulk.
Mark Ruffalo, em recente
entrevista ao site Collider, disse os
motivos de não vermos tão cedo um filme do Gigante Esmeralda:
"No que se refere a um filme solo do Hulk, a
Marvel ainda não tem os direitos. Isso ainda é propriedade da Universal,
então há essa questão (...). É um grande impedimento para se avançar com isso.
Mas eu não acho que seja insuperável".
O intérprete de Bruce Banner
está meio certo, mas também meio errado por tal pronunciamento. De fato, os
direitos não são 100% da Marvel, porém ela tem total poder de produzir ou não
um filme solo do Hulk. A Universal, antiga detentora dos direitos, após o
fiasco do primeiro filme do Hulk (2003) de Ang Lee, não produziu uma sequência
do filme em até dois anos (2005) e perdeu automaticamente os direitos sobre o
herói, conforme previsto em contrato. Portanto o filme O Incrível Hulk (2008)
de Louis Leterrier, já tinha
seus direitos totalmente voltados à Marvel.
A Forbes enumerou três
principais motivos para que os Estúdios Marvel não cogitem, ao menos por hora,
a fazer um filme sobre o Golias Esmeralda, são eles:
- Os filmes anteriores do Hulk, recentes, tiveram um retorno de público e crítica bem inferior aos dos outros filmes da Marvel, sendo um risco desenvolver um novo filme do super-herói.
- O Hulk parece funcionar melhor como um curinga do que como personagem central com um filme próprio.
- Reimaginar o Hulk como nada mais que um monstro furioso não impressionou o público nos filmes anteriores.
Na
minha visão, após a estreia de Vingadores, o cinema de super-herói,
principalmente o do UCM, mudou completamente, atingindo um patamar onde a
Marvel pode dar-se ao luxo de lançar heróis como Pantera Negro, Capitã Marvel e
Homem Formiga, personagens completamente secundários dentro do próprio universo
Marvel dos quadrinhos e principalmente desconhecidos do público em geral.
O status que a empresa já garantiu lhe permite lançar
filmes dos heróis mais desconhecidos possíveis que ainda lhe renderá lucro.
Lembrando ainda que mesmo considerados fracassos, nenhum desses filmes do Hulk
deram prejuízo (Hulk de 2003 - US$245.3 milhões; O Incrível Hulk de 2008 - US$263.4
milhões). Para efeito de comparação, o Capitão América: O Primeiro Vingador
arrecadou US$370.5 milhões, “apenas” US$107,1 milhões a mais que o filme de
2008. Se querem receitas acima dos US$500 milhões entende-se perfeitamente o
lado da Marvel, porém ainda assim não há alarde quanto a uma má receita.
Hoje Mark Ruffalo como Bruce Banner é muito mais carismático que Eric
Bana e Edward Norton juntos. Seus Hulk's também não competem com a qualidade de
CGI utilizada nos últimos dois filmes dos Vingadores. Portanto acho errônea
essa análise de que a Marvel tem medo de lançar mais um filme. Não haveria
motivo suficiente para sustentar essa hipótese, uma vez que os fãs clamam por
um novo filme. Talvez pautados na esperança de ver, enfim, seu herói retratado
nas telonas de maneira digna.
Não quero comparar a carga dramática entre um herói e outro, mas após os
grandes filmes de Batman do diretor Tim Burton, Joel Schumacher destruiu
completamente a franquia do Homem Morcego nos cinemas até que Christopher Nolan
reciclasse tudo que já havíamos visto e desse início (para muitos) a melhor
franquia de filmes de super-heróis de todo o cinema com a trilogia do Cavaleiro
das Trevas em 2004.
O Hulk dos dois filmes do
Vingadores já ultrapassou a barreira que o assemelha ao Dr. Jekyll e Mr. Hyde
(O Médico e o Monstro), podendo controlar sua transformação no clímax do
primeiro filme e relacionar-se com a Viúva Negra no segundo, além de (SPOILER
ELERT!) no final do longa ainda ter a capacidade cognitiva necessária para
pilotar uma nave e fugir da zona de guerra deixando Romanoff para trás.
Assim como o novo filme do
Homem Aranha, que será produzido pela Marvel em parceria com a Sony, não
contará a história de origem do personagem, um novo filme do Hulk também
pode pular essa parte. Pode até mesmo explorar o final dos Vingadores, como disse
no parágrafo anterior. Alguns fãs chegaram a cogitar a hipótese de a história
ser baseada na série Planeta Hulk, que inclusive bate com a evolução cognitiva que
expus também no parágrafo acima.
A Marvel está numa posição completamente cômoda e estável para poder
recriar os filmes que quiser. Basta ter a vontade e a intenção de recriar
aquele que é, ao lado do Homem Aranha, o personagem mais querido do grande Stan
Lee (e meu também, diga-se de passagem). A Marvel já provou por A+B que acerta
a mão quando o assunto é “blockbusters”. Um estúdio que conseguiu reunir uma
equipe composta por um humano contrabandista, a mulher mais perigosa do
universo, um assassino inescrupuloso, uma “arvore” humanoide e um guaxinim de bazuca,
que nunca tiveram o mesmo sucesso nos quadrinhos, ser uma das principais receitas
da empresa no cinema, mais um filme do Hulk não deve doer.